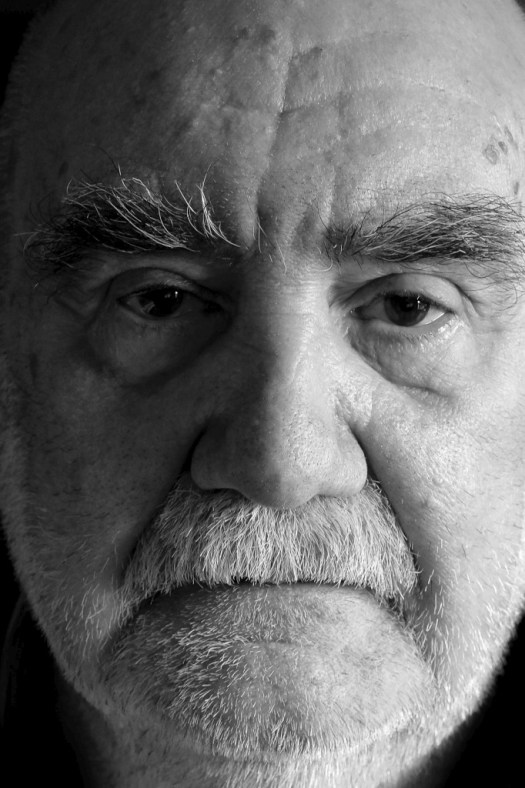
.
«A morte – diz o canto – é o amor enorme.» Herberto Helder tinha 33 anos quando publicou este verso (em Poemacto) e é irónico que essa mesma morte, ou outra morte qualquer, tenha finalmente levado um tal poeta. Essa mesma morte, ou outra morte qualquer, foi anunciada quatro dias mais tarde a Tomas Tranströmer ‒ se é possível que um poeta morra! Fica-me de memória esta sua meditação de 1983, deixada no poema «Bilhete-Postal Negro»: «Acontece, a meio da vida, a morte bater-nos à porta / e tomar-nos as medidas. Essa visita é esquecida, / e a vida continua. O fato, porém, esse / é cosido em silêncio.» (cito a tradução de Alexandre Pastor).
Quis o destino que assim fosse. Que se falasse de morte, no sentido puro que a morte pode ter, na estação em que a paisagem se enche com o branco imaculado das magnólias, com o matizado azul do agapanto, com o vermelho da amarílis, com os salpicos da serralha e das pascoinhas, com o verde da hortelã e do funcho, com o amarelo veemente do tojo. O espaço é enxuto, luminoso, celebrante. E, contudo, a morte anda-nos na boca.
É sabido o modo como Herberto Helder (nascido no Funchal, em novembro de 1930) e Tomas Tranströmer (nascido em Estocolmo, a 15 de abril de 1931) viveram discretamente, distanciados de certo ruído que lhes obscurecesse a visão do mundo, fiéis à servidão da metáfora com que definiram tão profundamente o ethos e o pathos humanos. Como tão bem notou Pessoa/ Ricardo Reis, «Cada um cumpre o destino que lhe cumpre», e eles, Herberto e Tomas, cumpriram-no, na certeza, na convicção inabalável de que a poesia fosse esse destino.
Dir-se-ia inevitável o conhecimento destes dois poetas. A muitos de nós, leitores-admiradores do seu (diferentíssimo) espaço criativo, tal encontro deu-se no universitário, em curtas seletas e traduções extraídas do Jornal de Letras, em edições muito folheadas e quase sempre sublinhadas por frenéticos lápis de discípulo. De Herberto havia a Poesia Toda, milagre de edição de que nunca consegui um exemplar! De Tomas Tranströmer havia pouca coisa. Inesquecível, porém, o contacto com a pequena recolha que nos era dada em Vinte e Um Poetas Suecos, de que fiz nessa altura, criminosamente, uma edição policopiada. Beleza plástica e contenção lírica, expressão do pormenor, domínio do inefável, brevidade e sentido de humor, eis como me chegou a poesia do psicólogo Tranströmer.
.
AQUELE QUE ACORDOU COM O CANTO SOBRE OS TELHADOS
Manhã, chuva de Maio. A cidade está calma
como uma cabana. Ruas tranquilas. No céu
troa azul-verde um motor de avião ‒ a janela está aberta.
O sonho onde se dorme de membros estendidos
torna-se transparente. Move-se, tateia
pelos instrumentos da visão ‒ quase no espaço.
(Tradução de Teresa Salema, Vega)
.
Não me recordo do primeiro poema que li de Herberto Helder. Lembro-me do estremecimento provocado pelo poema que principiava pelos versos «São claras as crianças como candeias sem vento, / seu coração quebra o mundo cegamente. / E eu fico a surpreendê-las, embebido no meu poema, / pelo terror dos dias, quando / em sua alma os parques são maiores e as águas turvas param / junto à eternidade.» (sexto andamento do poema «Elegia Múltipla» de A Colher na Boca). Com fervor quase religioso, como tomado pela mesma devoção com que leem alguns os seus guias místicos, fiz-me acompanhar na última década pelo volume precioso Ou O Poema Contínuo. Li-o integralmente vezes incontáveis, certo de que vive ali o génio e o sortilégio do melhor que se escreveu em língua portuguesa em toda a sua já vasta história.
.
Lenha ‒ e a extracção de pequenas astros,
áscuas. De poro a poro,
os electrões das corolas. Somente no mais escuro
não há nada. No escuro a carne é um buraco
invisual, e o que arde é o pão
no estômago, e nos brônquios
cortadamente
o ar. E o carbono devora sono a sono a inocência
das imagens. O que toca o órgão mais profundo
do sopro não é a música
nem chama: apenas um dedo de mármore entre
as têmporas como
uma bala. E enquanto pontas de fogo marcam
a boca, morremos afogados
no espelho, no rosto. E se a loucura um instante
levanta as pálpebras.
A grande válvula do corpo.
A escuridão, a terra.
.
.

.
No verão de 2012 senti um fervor idêntico, quando principiei a ler os Cinquenta Poemas de Tranströmer editados pela Relógio d’Água. Não há na poesia do sueco o ritmo torrencial, encantatório, melódico dos versos de Herberto. Há, ainda assim, a mesma subtileza dos silogismos, o poder da imagem, a afirmação da palavra poética num mundo dolorosa, progressivamente mais prosaico. Há a beleza escultural, marmórea, luminosa de verdades que, não raro nos escapam, e que representam o privilégio da revelação e da sensibilidade poéticas.
.
FURACÃO ISLANDÊS
Não um terramoto, mas um sismo celeste. Turner, bem amarrado, podia ter pintado aquilo. Ainda há pouco, uma luva solitária passou por mim redemoinhando a muitos quilómetros de distância da sua mão. Lutando contra o vento, tenho de chegar à casa que está do outro lado do campo. Como uma bandeira, adejo no furacão. Sou radiografado, o esqueleto entrega o seu pedido de demissão. O pânico aumenta enquanto avanço aos ziguezagues, vou a pique, vou a pique, acabarei por me afogar em terra firme. Que pesado se torna tudo o que tenho de arrastar, o que será para uma borboleta rebocar um batelão! Chego, por fim, ao destino. Um último combate com a porta. Já entrei, já entrei! Agora estou atrás da enorme janela envidraçada. Que estranha e fantástica invenção não é o vidro ‒ estar tão perto e não ser afetado… Lá fora, em debandada pelo campo de lava, uma horda de corredores, vestes insufladas, gigantes e transparentes. Mas eu já não esvoaço. Sentado atrás do vidro, quieto, sou o meu próprio retrato.
(Tradução de Alexandre Pastor, Relógio d’ Água)
.
É quase manhã quando escrevo estas palavras. O trissar das andorinhas e dos estorninhos enche o espaço. Penso com o espanto de um mortal na complexa roda do tempo. Nos poetas que nos morrem e no quanto lhes devemos. No que dever significa e talvez nem saibamos. Na imprecisão com que se diz morreu o poeta Herberto Helder. Na devastação de se pensar que o poeta Tomas Tranströmer desapareceu. Porque um e outro deixaram seguidores, vagos epígonos, amantes, sementes e metáforas, luz. E talvez pudesse confessar o quanto um e outro trouxeram para dentro do meu coração por vezes despedaçado e maltratado. Ou talvez devesse explicar que a poesia de um e de outro enche uma pequena parte das minhas estantes de poesia, aonde regresso amiúde, como quem pretende converter-se a uma melhor humanidade. Ou talvez pense (pensando melhor) que talvez os poetas morram mesmo e que a morte de um poeta seja talvez a morte lenta da própria humanidade. Talvez pense que afinal não são tantos assim os que se importam e os que têm estantes de poesia em casa. Talvez pense que poucos serão os que regressam a certos livros de poesia como quem regressa a uma fé, ou a uma cela, ou a um certo silêncio impermeável. Talvez a humanidade tenha, finalmente, deixado os seus poetas morrer. E queira morrer com eles e sem eles, numa infinita e incapaz solidão.
.






