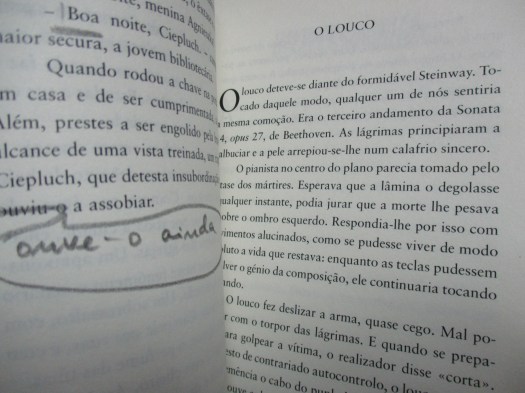.
El 1 de septiembre de 1730, entre 9 y 10 de la noche, se abrió de pronto la tierra a dos leguas de Yaiza, cerca de Chimanfaya. Desde la primera noche se formó una montaña de considerable altura de la que salieron llamas que estuvieron ardiendo durante diecinueve días seguidos.
Relato de Andrés Lorenzo Curbelo Perdomo, cura de Yaiza, intitulado Diario de apuntaciones de las circunstancias que acaecieron en Lanzarote cuando ardieron los volcanes, año de 1730 hasta 1736
.
Ao quarto dia entranhámo-nos no centro-sul da ilha: de manhã Tinajo, à tarde San Bartolomé, Tías, La Gería, Uga, Yaiza. volto a espantar-me com a limpeza e brio dos lanzarotenhos, em cujas povoações não permanecem muito tempo à solta o maldito plástico ou o maldito ruído. fotografo a estrada, uma reta gigantesca que, submergindo de quando em quando num declive, reaparece quilómetros mais à frente, até se perder de vista, muito longe, no sopé de uma das escuras montanhas que por cá proliferam. depois fazemos um desvio para subir lentamente, de curva em curva, até ao lugar onde nos recebe um diabo de pernas escancaradas e braços abertos, cauda pontiaguda, a segurar uma tábua com a legenda PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA.
Dominada por vulcões sucessivos, a paisagem repete-se. talvez por isso, a boca procura agora mais fundo para dizer melhor, para dizer diferente. esperamos uma hora, apeados, dentro do carro, numa monstruosa fila que quase não avança, observando os cones que se multiplicam de lés a lés, de cores tão vivas como o açafrão e o ocre, o vermelho, o laranja, o verdete, ou o marrom, cores muito misturadas, sotopostas, em estrias, em cachos, escorrendo umas sobre as horas. esperamos. às vezes a beleza cansa, facto blasfemo mas verdadeiro. esta beleza confunde os sentidos. não, não há palavras para ela.
.
.
Entramos no que chamam Islote de Hilario, centro nevrálgico do parque onde o visitante pode estacionar a sua fatigada viatura, dar satisfação às premências humanas, observar em círculo toda a extensão do fenómeno geológico que alimenta este poema, embarcar num autocarro turístico, assistir à prova de fogo, pasmar-se com o jorro de água fervente cuspido a meia dúzia de metros de altura, descansar, comprar recordações. fotografo quase com obsessão, aqui, ali, além, o calor aperta (nada que se compare aos quatrocentos graus que sopram da boca da terra), tu trazes os bilhetes, também nós viajaremos pela estreitíssima rota asfaltada, entre píncaros e vales, a que chamam Vale de Tranquilidade.
Pelos vidros sujos chega-nos o bizarro elenco que as colunas de cinza fabricaram, fileiras de chaminés e maciços de lava, estranhas formas nodosas e retorcidas que lembram fósseis, crateras e encostas policromáticas, minerais, inóspitas, lunares, nenhuma tão bela como a Caldera del Corazoncillo. assim o diz a gravação que escutamos em castelhano, inglês e alemão, a que nos recorda a grande erupção de 1 de setembro de 1730, a narrativa dramática do padre de Yaiza, a lenda do eremita Hilário, os povoados férteis sepultados debaixo de toneladas de magma.
Não sabemos decidir se é este lugar um hino à vida ou à morte. prometi escrever sobre o assunto. tanto tempo depois, a dúvida mantém-se.
20.08.2018
.