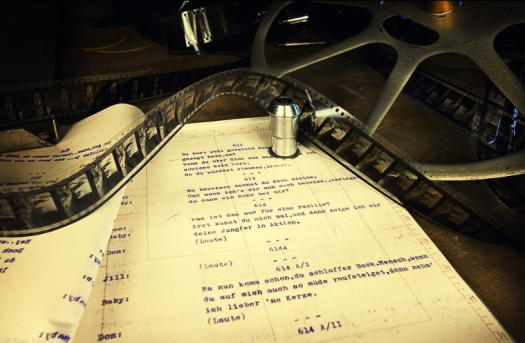.
Ao colocar na varanda a sua bela orquídea, é possível que na cabeça dessa mulher tenham surgido pensamentos complexos. «Da próxima vez que tocar este vaso já muita coisa terá passado». «Se voltar a ver-te, minha querida orquídea, é porque a vida deu uma lição de força em que jamais acreditei». «Quantas vezes entre um gesto e outro gesto similar decorre o arco temporal de uma vida». «Entramos num túnel e saímos dele sem saber se ainda somos a mesma pessoa». É possível que essa mulher se comova com o pólen dos plátanos que neste preciso momento voa até tão alto e pense nas coisas que involuntariamente desprezou. Não muito longe do seu apartamento as molas dos cavalinhos e os baloiços do parque infantil gemem com frenesim. Não os consegue ver, mas sente a alegria das crianças. O sol atinge em cheio uma gota de orvalho depositada na grade escura e refrata-se. Um minúsculo arco-íris ilumina-lhe os olhos doridos. Qualquer coisa como uma epifania, como um aperto descomunal, como um remorso lúcido, atinge-lhe a alma e fá-la elevar-se, levitar de pureza e de arrependimento. «Ah, minha querida orquídea, se nos tornarmos a ver… é porque tudo será diferente».
Penso muitas vezes nestas invocações subtis do tempo. Ensinaram-me a não cair em tentação, a viver cada dia como se fosse o último, a procurar em cada um o melhor de todos. Aprendi a guardar e acalentar as memórias, a não subornar o futuro com favores mesquinhos («Não subornes a vida. Não intoxiques as areias movediças e aprisionadas da ampulheta. Não dês fim à paz dos teus sonhos. Vive sem rancor, pois em cada coisa vive já sombra bastante», explica-me a consciência nas noites de insónia). Ensino agora eu também a amar as pequenas existências, a respeitar os sentimentos que, entrelaçados, fortes e perfeitos, são os tendões da nossa própria existência. Ensino as palavras. Ensino a usá-las, como se usa um escafandro ou um fato de astronauta, para podermos respirar para lá da nossa própria respiração.
Levado pela mão de uma neta nessa tarde de domingo, o velho cego sorri ao passar junto de uma serração. Os olhos vedados respiram com volúpia a omnipresença do serrim, o aroma limpo e sujo do pó, do pinho, das madeiras empilhadas e simétricas. Do reino da meninice, que jurou conservar e proteger até ao último dos seus suspiros, chegam-lhe os braços da mãe, os ecos da guerra, as vozes de todos os que a pouco e pouco se calaram e não pôde reconhecer no silêncio, exceto quando as mãos tocaram o gelo do rosto, o gelo dos lábios, o gelo do nariz, o gelo das faces geladas. Apenas o frio o assusta. E por isso a palma apertada da neta, o sol macio desse meio de tarde de domingo, o cheiro quente e um pouco húmido para lá do muro alegram-no em segredo. Jamais poderia explicar essa felicidade intransmissível de sensações misturadas, essa paz inefável que lhe recorda o avô, o pai e os irmãos carpinteiros. Como foi possível não seguir-lhes esse ofício? Voz melodiosa, a dos perfumes. Os olhos vedados respiram-nos com volúpia. Por eles obtém a dimensão de cada ferramenta, de cada máquina, de cada pedaço dessa oficina onde sonha ir tatear o seu próprio perdido…
E eu que absorvo todas estas coisas escrevo-as. Agulha, linha escura atravessando os poros do papel. Os ignorantes calcam as pedras com olhos (olhos grossos, como caules de um cato gigante). As pedras são surdas. Nem o fio do vento possui algo que lhes possa dizer. Os ignorantes entaiparam a razão e não amam os poemas. Mas eu que observo estas coisas construo os poemas, sinto a urgência de não deixar esgarçar-se a corda do amor, de não deixar esvair-se no nada as pontas delicadas deste amor entre nós e as coisas.
Assim o pensa também a rapariga no antro do hospital, onde faz tombar carrinhos repletos de roupa suja. «O que contêm os lençóis dessa mulher que morreu hoje, derrotada por fim pela doença?» «O que escondem as toalhas daquele cego tão amoroso, que há uma hora se despediu, sorrindo, da vida?» «O que veriam os seus olhos incapazes de olhar?» «Um anjo?» «Uma mulher outrora desejada?» «Um gato ronronando-lhe no colo?» «O que significa este ato terminal, este lavar das coisas que contêm os últimos vestígios de um tempo vivo?» «Porque morrem as pessoas que nos habituámos a amar?» «Porque sentimos a falta das palavras que nessas pessoas são orações e raios de um sol inteiramente novo?» «Porque me dói tanto que entre mim e estas luvas e esta roupa e este cheiro de caves se interponha esta saudade, este apego ao infinito?»
E quando chegas e me contas estas coisas, e te embrulhas em mim tremendo de frio, e choras em silêncio, e olhamos a televisão apagada, e revemos uma a uma as cenas de inúmeras vidas desarticuladas e em comunhão connosco, eu compreendo-te com o coração gigante, estrela inflamada pelos sentimentos que brotam dos minúsculos poros da noite, das palavras, do papel que as acalentou para nós e para depois de nós, e embrulho-te com ternura, com os mantos invisíveis de uma noite repleta de estrelas, e deixo que adormeças nos meus braços, amparada e triste, como um anjo que soubesse seres tu sem que o saibas ainda.
Às vezes o tempo abre em nós, com os seus desastres, contradições e aniquilamentos, rombos assustadores. Mas por mais que a vida doa, podemos sempre procurar em nós uma migalha de sonho e de esperança. Podemos sempre seguir o exemplo das crianças e aprender com elas a arte magnífica da resistência e do renascimento.
Podia dizer-te tudo isto. Mas tu dormes. Felizmente, tu dormes já.
.